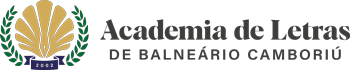FRANKENSTEIN REVISITADO: A EVOLUÇÃO DA RESPONSABILIDADE NA ERA DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL
Tatiana Bissoni Vhoss [1]
[1] A autora é mestre em Ciência Jurídica, especialista Filosofia, Artes e Literatura, especialista em Direitos Humanos, Direito Previdenciário, Direito Tributário, Direito Empresarial, titular da Cadeira 8, Patronato de Cecília Meireles, na Academia de Letras de Balneário Camboriú.
INTRODUÇÃO
Publicada pela primeira vez em 1818, Frankenstein ou o Prometeu Moderno, de Mary Shelley, é considerada uma das obras fundadoras da ficção científica e permanece, até hoje, como um marco da literatura gótica e especulativa. Escrita quando a autora tinha apenas 18 anos, a obra surgiu a partir de um desafio literário proposto por Lord Byron, durante um verão chuvoso às margens do Lago de Genebra, na Suíça. A jovem Mary, influenciada pelas discussões científicas e filosóficas de sua época, especialmente sobre galvanismo e a possibilidade de reanimar matéria morta, deu vida a uma história profundamente inovadora, tanto em seu enredo quanto em suas implicações morais e sociais.
Frankenstein foi publicado anonimamente em sua primeira edição e, somente na versão revisada de 1831, o nome de Mary Shelley passou a figurar como autora. A edição de 1831 também traz modificações no texto e um prefácio da própria Mary, no qual ela relata as origens da obra. Desde então, o romance passou por inúmeras edições e adaptações, consolidando-se como um ícone cultural, tanto na literatura quanto no cinema, no teatro e até na filosofia contemporânea. O impacto da obra transcende seu tempo, dialogando com questões éticas, científicas e existenciais ainda debatidas atualmente.
A trama acompanha Victor Frankenstein, um jovem cientista obcecado por descobrir os segredos da vida. Após anos de estudos e experimentos, ele finalmente consegue animar um ser construído a partir de partes de cadáveres. No entanto, ao contemplar o resultado de sua criação, Victor é tomado por pavor e repulsa, abandonando imediatamente a criatura à própria sorte. A passagem em que Victor se depara com sua criação viva é emblemática:
Incapaz de suportar o aspecto do ser que criara, corri para fora do cômodo e continuei a andar por meu quarto por um bom tempo, sem conseguir aquietar a cabeça para dormir…Como quem vai com medo e horror, num caminho deserto, e após virar para trás avança, só olhando a frente, certo de que algum demônio medonho o segue bem de perto.[2]
Esse momento de rejeição marca o início de uma tragédia que perpassa todo o romance, lançando luz sobre a irresponsabilidade moral do criador e o sofrimento profundo de um ser abandonado, que, apesar de sua aparência monstruosa, anseia por amor, aceitação e pertencimento.
Porém, oferece um campo fértil para reflexões jurídicas, bioéticas e tecno-científicas. A trama que gira em torno da criação de um ser artificial e sua subsequente marginalização levanta questões fundamentais: quem deve ser responsabilizado por um ato que envolve a criação da vida? Seria o monstro a criatura abandonada ou o cientista que o rejeita?
A literatura, como manifestação da cultura e da sociedade, muitas vezes antecipa dilemas que o Direito, com seu caráter normativo, demora a enfrentar. A obra Frankenstein é uma dessas narrativas visionárias.
Para além do aspecto literário, como arte, Frankenstein instiga reflexões ético-jurídicas sobre o preconceito, a exclusão, a criação da vida e a responsabilidade por ações humanas e não humanas. É possível imputar responsabilidade criminal a uma criatura artificial? Seu criador, ao transgredir os limites naturais da ciência, pode ser considerado culpado pelos crimes por ela cometidos?
Sob a perspectiva da Literatura, da Arte, do Direito, da Bioética e das novas tecnologias, a responsabilidade da criação, correlaciona a narrativa de Shelley com debates contemporâneos envolvendo engenharia genética, inteligência artificial e o princípio da dignidade da pessoa humana.
A DISCRIMINAÇÃO PELA DIVERSIDADE
O primeiro olhar jurídico recai sobre o preconceito sofrido pela Criatura. Esteticamente diferente, ela é rejeitada, hostilizada e marginalizada. Ao ser abandonada por seu criador e repelida pela sociedade, a Criatura vivencia uma exclusão que encontra eco na realidade jurídica contemporânea: o crime de discriminação.
Em um trecho da obra, a Criatura menciona:
Assim era a história dos amados donos do chalé. Ela impressionou-me profundamente. Aprendi, do ponto de vista da vida social que desenvolvi, a admirar suas virtudes e a reprovar os vícios da humanidade. Até então via o crime como um mal distante. A benevolência e a generosidade sempre se fizeram presentes para mim, incitando o desejo de tomar-me ator em um cenário em que tantas qualidades admiráveis eram exigidas e apresentadas.[3]
A autora atribui à Criatura sentimentos humanos e compreensão ética, o que poderia sustentar sua caracterização como sujeito de direitos. Sua súplica: ‘‘Em todo lugar vejo a felicidade que somente a mim é irrevogavelmente negada. Fui benevolente e bom; a infelicidade transformou-me em um demônio. Faça-me feliz e serei virtuoso novamente’’[4], demonstra consciência moral, tornando discutível seu tratamento como mero objeto.
A Criatura, sem nome e sem identidade civil, evoca, ainda que implicitamente, os princípios fundamentais dos direitos humanos. Excluído da sociedade desde o nascimento, privado de pertencimento, dignidade e reconhecimento jurídico, o ser criado por Victor Frankenstein personifica o indivíduo à margem do sistema legal — alguém que existe, mas cuja existência não é validada nem protegida. Sua condição levanta questões cruciais: haveria dignidade humana sem identidade? É possível reivindicar direitos quando não se é reconhecido como sujeito de direito? A Criatura, ao buscar amor, aceitação e convivência, evidencia uma demanda por inclusão social, afetiva e legal. Sua rejeição sistemática revela a face excludente da sociedade, que marginaliza o outro por sua aparência, origem ou diferença, numa clara violação ao princípio da dignidade da pessoa humana.
Os direitos humanos consistem em garantias universais, fundamentais e indispensáveis à dignidade da pessoa humana. São prerrogativas inerentes a todos os indivíduos, independentemente de nacionalidade, raça, gênero, orientação sexual, religião ou qualquer outra condição, com fundamento nos princípios da liberdade, igualdade, solidariedade e dignidade. No ordenamento jurídico brasileiro, tais direitos encontram respaldo tanto em tratados internacionais, como a Declaração Universal dos Direitos Humanos[5] e Convenção Americana sobre Direitos Humanos[6], quanto na Constituição Federal de 1988.
Entre os diversos direitos assegurados ao ser humano, destaca-se o direito ao tratamento igual, consubstanciado no princípio da igualdade. Esse princípio estabelece que todos os indivíduos devem ser tratados com o mesmo respeito e consideração perante a lei, sem discriminações indevidas ou arbitrárias. Ressalta-se, contudo, que o conceito de igualdade não implica uniformidade absoluta; ao contrário, admite-se o tratamento diferenciado de situações desiguais, com vistas à promoção da justiça social, o que caracteriza a chamada igualdade material ou substancial. A igualdade formal, por sua vez, refere-se à garantia de que todos são iguais perante a norma jurídica, sem distinções prévias.
No Brasil, a Constituição Federal de 1988 prevê expressamente o princípio da igualdade no caput do artigo 5º, ao dispor que ‘’Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade’’.[7]
Além do caput, outros dispositivos constitucionais reforçam o combate à discriminação, tais como:
Art. 5º, inciso XLI: “a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais”; Art. 5º, inciso XLII: considera o racismo crime inafiançável e imprescritível; Art. 7º, inciso XXX: veda distinções salariais por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil.[8]
O direito ao tratamento igual, enquanto expressão dos direitos humanos, ocupa posição central no ordenamento jurídico brasileiro. Sua consagração constitucional visa assegurar que todos tenham acesso às mesmas oportunidades e proteção legal, contribuindo para a construção de uma sociedade mais justa, plural e inclusiva.
No plano internacional, pois os fatos da obra se passam em outros territórios como Inglaterra, embora a ação também se desenrole na Suíça e no Círculo Polar Ártico, o princípio da igualdade e o combate à discriminação configuram pilares fundamentais do Direito Internacional dos Direitos Humanos. Diversas declarações e tratados consagram a noção de que todos os seres humanos devem ser tratados com igual dignidade e respeito, independentemente de características pessoais, sociais ou culturais.
A Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH), proclamada em 1948 pela Organização das Nações Unidas (ONU), estabelece em seu artigo 1º que “todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos”[9]. No artigo 2º, reforça que esses direitos devem ser assegurados sem qualquer distinção, como a de raça, cor, sexo, idioma, religião, opinião política, origem nacional ou social, posição econômica, nascimento ou qualquer outra condição[10].
Dentre os principais tratados internacionais sobre o tema, destacam-se:
- Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos (PIDCP, 1966), subscrito no Brasil pelo Decreto nº 592, de 06 de julho de 1992: consagra em seu artigo 26 que todas as pessoas são iguais perante a lei e têm direito à igual proteção sem qualquer discriminação;[11]
- Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial (1965), representado pelo Decreto 65.810, de 08 de dezembro de 1969;[12]
- Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher (CEDAW, 1979), no Brasil subscrito pelo Decreto n. 4377, de 13 de setembro de 2002;[13]
- Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (2006), no Brasil, foi ratificada pelo Decreto Legislativo nº 186, de 09 de julho de 2008[14] e promulgada pelo Decreto nº 6.949, de 25 de agosto de 2009[15].
O Brasil é signatário de todos esses tratados e, conforme o artigo 5º, § 3º, da Constituição Federal de 1988[16], os tratados de direitos humanos aprovados com quórum qualificado possuem status de emenda constitucional, reforçando sua força normativa no ordenamento jurídico interno.
Para Flávia Piovesan, os tratados internacionais de direitos humanos consolidam um novo paradigma jurídico centrado na dignidade da pessoa humana, no qual a igualdade deixa de ser uma mera abstração formal para se tornar exigência concreta de justiça social[17].
Paulo Bonavides complementa que a igualdade, enquanto valor fundante do constitucionalismo contemporâneo, é condição sine qua non para a realização dos direitos fundamentais[18].
Já Antônio Augusto Cançado Trindade enfatiza que os instrumentos internacionais constituem um corpo ético-jurídico comprometido com a superação das formas de exclusão e a promoção da dignidade humana em escala universal[19].
Sob essa ótica, a obra Frankenstein, de Mary Shelley, pode ser compreendida como uma representação simbólica das violações ao princípio da igualdade e ao direito ao reconhecimento. A Criatura, por ser fisicamente distinta e não corresponder às expectativas sociais de normalidade, sofre constante rejeição, estigmatização e exclusão. Embora dotada de sentimentos, linguagem e razão, elementos próprios da humanidade, não é tratada como sujeito de direitos, mas como um ser marginalizado, cuja alteridade é negada e punida.
Essa exclusão retratada na ficção ecoa realidades concretas de milhões de pessoas que, por fugirem de padrões socialmente aceitos, enfrentam discriminação sistêmica. A negação de sua humanidade revela o distanciamento entre o ideal normativo dos direitos humanos e sua aplicação efetiva. Assim, Frankenstein ilustra a urgência da construção de uma cultura jurídica e social verdadeiramente comprometida com a igualdade substancial, o reconhecimento das diferenças e a dignidade universal.
RESPONSABILIDADE PENAL DA CRIATURA E DE SEU CRIADOR
Sob uma perspectiva jurídico-penal, a obra Frankenstein, de Mary Shelley, apresenta ao leitor um dilema clássico: quem deve ser responsabilizado pelos crimes cometidos: a Criatura ou seu criador, Victor Frankenstein?
A Criatura, ao longo da narrativa, comete três homicídios: o de William Frankenstein, irmão mais novo de Victor, morto por representar a família que o rejeitou; o de Henry Clerval, melhor amigo de Victor, assassinado como forma de vingança, punindo o criador através da dor da perda; e o de Elizabeth Lavenza, noiva de Victor, morta na noite de núpcias como retaliação pela destruição da companheira que lhe fora prometida.
Esses atos revelam um padrão de violência motivado por abandono, ressentimento e desejo de reconhecimento. No entanto, surge o questionamento: a responsabilidade penal pode recair apenas sobre a Criatura, fruto de uma experiência não consentida e privada de orientação ética e social? Ou seria Victor Frankenstein o verdadeiro responsável, ao transgredir os limites da ciência, criar a vida e, em seguida, abandonar sua criação, negligenciando os deveres morais e sociais que daí decorriam?
À luz do Direito Penal brasileiro, a análise exige a consideração dos elementos da conduta típica e antijurídica, da culpabilidade, incluindo os critérios de dolo, culpa e imputabilidade.
O dolo consiste na vontade consciente de realizar a conduta típica e de produzir o resultado criminoso. Segundo o artigo 18, inciso I, do Código Penal Brasileiro, o crime é doloso “quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo”[20]. Há dolo direto, quando o agente deseja o resultado, e dolo eventual, quando ele não quer diretamente o resultado, mas assume o risco de produzi-lo.
A culpa ocorre quando o agente não deseja o resultado ilícito, mas o produz por imprudência, negligência ou imperícia, conforme o artigo 18, inciso II, do Código Penal[21]. Trata-se de uma conduta menos reprovável que o dolo, embora também relevante penalmente.
Para Fernando CAPEZ[22], a culpa caracteriza-se pela inobservância do dever objetivo de cuidado. O agente, embora não queira causar dano, age de forma inadequada em relação ao risco previsível. A previsibilidade do resultado é elemento essencial da culpa: não se pune alguém por algo que era absolutamente imprevisível.
A imputabilidade penal refere-se à capacidade do agente de entender o caráter ilícito do fato e de se autodeterminar de acordo com esse entendimento. O artigo 26 do Código Penal[23] dispõe que é isento de pena aquele que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era inteiramente incapaz de compreender ou de se autodeterminar no momento da ação.
Segundo NUCCI[24], a imputabilidade é requisito indispensável para a responsabilidade penal. A inimputabilidade, por sua vez, decorre da ausência dessa capacidade, seja por razões patológicas, por imaturidade (como nos menores de 18 anos, conforme art. 27 do Código Penal), ou por estados excepcionais, como embriaguez completa e acidental.
A avaliação da imputabilidade envolve, muitas vezes, exames periciais e análise interdisciplinar. É o que ocorre, por exemplo, em casos que envolvem transtornos mentais severos, nos quais se verifica se o agente tinha discernimento suficiente para compreender a ilicitude de sua conduta.
Assim, Shelley antecipa, por meio da ficção, debates contemporâneos sobre o reconhecimento de sujeitos vulneráveis, o direito à identidade, e a responsabilidade social perante os seres que, embora “estranhos”, compartilham da mesma essência humana. E a Criatura afirma:
Porém, não pode ser assim. Os Juízos humanos são barreiras intransponíveis para nossa união. No entanto, minha não será a submissão à escravidão abjeta. Vingarei-me de minhas dores. Se não puder inspirar amor, causarei medo, e principalmente a você, meu arqui-inimigo pois meu criador, juro um ódio inextingui-vel. Tenha cuidado: trabalharei para sua destruição, não cessarei até que desole seu coração, de modo que amaldiçoará a hora de seu nascimento.
Uma raiva diabólica o animava ao dizer essas palavras; seu rosto contorceu-se de modo deveras horrível para a visão de olhos humanos.[25]
Por sua vez, Victor pondera e assume: “Eu, não em ato, mas em efeito, era o verdadeiro assassino”[26].
Frente a tais relevantes dilemas jurídicos e éticos que desafiam o conceito clássico de responsabilidade penal, então, quem deve ser considerado responsável pelos homicídios cometidos, a Criatura ou seu criador, Victor Frankenstein?
Sob a ótica penal contemporânea, sua responsabilidade é questionável, pois há indícios de inimputabilidade. Criada artificialmente, sem identidade, nome ou registro civil, a Criatura demonstra desde sua origem uma fragilidade psíquica e emocional, agravada pelo abandono, pelo isolamento social e pela ausência total de orientação moral e afetiva. Embora demonstre capacidade de aprender linguagem e valores morais, seu comportamento oscila entre carência e agressividade. Assim, pode-se sustentar que a Criatura não possuía plena capacidade de compreender o caráter ilícito de seus atos ou de se autodeterminar de acordo com esse entendimento, conforme previsto no artigo 26 do Código Penal Brasileiro[27].
Sob essa perspectiva, a Criatura seria inimputável, conforme a definição de NUCCI[28], por apresentar condição análoga à de um ser humano privado de desenvolvimento psíquico e social adequado. A responsabilidade, então, recairia sobre o agente que, de forma consciente e voluntária, criou e abandonou um ser dotado de emoções, mas sem instrução nem pertencimento social: o próprio Victor Frankenstein.
Victor, cientista experiente, agiu com dolo direto, pois teve plena consciência do que fazia ao manipular corpos e gerar artificialmente um ser vivo. Embora não desejasse diretamente os crimes cometidos, assumiu o risco (dolo eventual) ao abandonar sua criação, ciente do sofrimento e do descontrole que isso poderia provocar. Seu comportamento pode ainda ser analisado sob a ótica da culpa consciente, pois previa a possibilidade de um resultado danoso, mas acreditava que ele não se concretizaria, o que não o exime de responsabilidade.
Portanto, juridicamente, a Criatura poderia ser considerada inimputável; Victor Frankenstein, por sua vez, seria o sujeito imputável e dolosamente responsável pelos crimes que resultaram de seu ato inicial, negligente e imprudente, de criar e abandonar um ser à própria sorte.
REFLEXÕES CONTEMPORÂNEAS: BIOÉTICA E TECNOLOGIA
A discussão sobre a criação da vida artificial se alinha com dilemas bioéticos da atualidade. A engenharia genética, a seleção embrionária e os algoritmos de decisão judicial automatizada levantam novas questões jurídicas. Como exemplifica SANDEL, estamos diante do surgimento de “pais projetistas e filhos projetados”[29].
Quem responderia pelos delírios de um julgamento automatizado? Conforme Morais da Rosa e Boeing, os algoritmos refletem as decisões humanas que os alimentam, e não estão isentos de vieses ou falhas técnicas.[30]
Além disso, professores da Universidade de São Paulo, em recente publicação defendem a proteção híbrida da personalidade, teoria jurídica contemporânea que propõe a articulação simultânea de normas constitucionais e infraconstitucionais — principalmente do Direito Civil e do Direito Constitucional, para assegurar os direitos da personalidade frente a novos desafios trazidos pela tecnologia, ciência e biotecnologia, como a manipulação genética, inteligência artificial, clonagem, neurotecnologias, entre outros. frente às ameaças trazidas pelo avanço científico, evocando os artigos 1º e 5º da Constituição e o art. 12 do Código Civil.[31]
Ao empreender a criação de um ser vivo sem qualquer responsabilidade ética ou compromisso social, Victor Frankenstein transgride princípios fundamentais da bioética e do biodireito contemporâneo, especialmente os princípios da precaução, da responsabilidade pós-criação e da dignidade da pessoa humana. Tais princípios estão consagrados em documentos como a Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos[32], a qual estabelece, no artigo 3º, que a dignidade humana, os direitos humanos e as liberdades fundamentais devem ser plenamente respeitadas, inclusive no contexto de avanços científicos e tecnológicos.
A figura do monstro de Frankenstein, abandonado por seu criador após ser animado, simboliza de forma pungente o problema da responsabilidade ética e jurídica sobre criações tecnológicas complexas. Victor Frankenstein, ao recusar-se a assumir as consequências de sua obra, inaugura um dilema que ressurge hoje diante do avanço da inteligência artificial autônoma: quem responde pelos atos de uma “criatura” que aprende, decide e age de forma independente?
Essa discussão torna-se especialmente urgente em casos como acidentes fatais causados por veículos autônomos, em que não há condutor humano responsável direto. O problema jurídico está em identificar quem deve arcar com a responsabilidade civil ou penal: O fabricante do sistema? O programador? O usuário/proprietário do veículo? Ou ainda: poderia a Inteligência Artificial ser considerada sujeito de responsabilidade própria?
Em situações mais complexas, como o choque entre dois veículos autônomos, a responsabilidade pode recair sobre múltiplos agentes humanos e institucionais, ou mesmo revelar lacunas normativas na legislação vigente. O desafio está em redefinir os limites da culpa e da imputação objetiva quando o agente causador é uma entidade não-humana, que atua com base em aprendizado de máquina e algoritmos de decisão próprios.
Ao evocar Frankenstein, não se trata apenas de uma analogia literária, mas de uma premissa ética e jurídica fundamental: a responsabilidade do criador sobre os atos de sua criação. O monstro não nasceu mal, foi moldado pelo abandono. Da mesma forma, uma Inteligência Artificial que causa danos pode estar refletindo falhas humanas na elaboração do projeto, no treinamento de dados ou na regulação de seu uso.
No mesmo sentido, conforme defende Piovesan[33], o reconhecimento da dignidade deve se estender a todos os sujeitos dotados de vulnerabilidade e consciência, mesmo que à margem da definição jurídica tradicional de pessoa.
A bioética propõe uma atuação científica orientada pela responsabilidade solidária e pelo compromisso com a integridade da vida, em oposição a práticas tecnocêntricas que ignoram o impacto de suas intervenções.
Considerações Finais
A obra Frankenstein permanece atual ao colocar em xeque a fronteira entre criador e criatura, ciência e ética, responsabilidade e culpa. Ao permitir que tanto Victor quanto sua Criatura assumam culpas e arrependimentos, Mary Shelley não oferece respostas fáceis. Cabe ao leitor refletir sobre as implicações morais, legais e sociais da criação artificial da vida e dos impactos dos avanços tecnológicos sobre a dignidade humana.
A partir dessa leitura, é possível afirmar que a obra antecipa debates fundamentais do Direito Contemporâneo: bioética, responsabilidade penal ampliada, proteção da personalidade e regulação da inteligência artificial.
A obra também retrata julgamentos concretos que expõem a fragilidade dos sistemas de justiça criminal. A personagem Justine Moritz é injustamente condenada à morte pelo assassinato de William, enquanto Victor Frankenstein, acusado pela morte de Henry Clerval, é preso, mas posteriormente absolvido[34]. Esses episódios literários sugerem a ideia de limitação do sistema penal, sobretudo no que diz respeito à pena capital e seus efeitos irreversíveis diante de equívocos ou de provas mal apresentadas.
Em síntese, conclui-se que a responsabilidade deve recair sobre o cientista, Victor Frankenstein, por haver criado a vida sem considerar os deveres éticos e sociais decorrentes de seu ato. A Criatura, abandonada, sem educação moral ou afeto, age movida pela dor e pela exclusão, o que enfraquece sua imputabilidade penal. Assim, Victor se torna o verdadeiro responsável, por omitir-se diante das consequências da própria criação.
Nesse contexto, Frankenstein ultrapassa sua dimensão literária e converte-se em instrumento de reflexão sobre os desafios da modernidade. Ao denunciar os riscos da ciência sem consciência, a obra de Shelley provoca a Literatura a dialogar com a Arte, a Filosofia e o Direito, buscando construir uma base normativa capaz de responder aos dilemas que emergem da inovação tecnológica acelerada, sem perder de vista os fundamentos da dignidade humana e da justiça social.
REFERÊNCIAS
BOEING, Daniel; MORAIS DA ROSA, Alexandre. Ensinando um robô a julgar. Florianópolis: Empório do Direito, 2020.
BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 16. ed. São Paulo: Malheiros, 2010, p. 563.
BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. São Paulo: Ed. Saraiva. 2001.
BRASIL. Código Civil. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. São Paulo: Ed. Saraiva. 2010.
BRASIL. Decreto n. 592, de 06 de julho de 1992. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/d0592.htm. Acesso em: 15 jun. 2025.
BRASIL. Decreto n. 65.810, de 08 de dezembro de 1969. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1950-1969/d65810.html. Acesso em: 15 jun. 2025.
BRASIL. Decreto n. 4.377, de 13 de setembro de 2002. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2002/d4377.htm. Acesso em: 15 jun de 2025.
BRASIL. Decreto n. 186, de 09 de julho de 2008. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/congresso/dlg/dlg-186-2008.htm. Acesso em: 15 jun de 2025.
BRASIL. Decreto n. 6.949, de 25 de agosto de 2009. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/decreto/d6949.htm. Acesso em: 15 jun de 2025.
BRASIL. Decreto-Lei n. 2.848, de 07 de dezembro de 1940. Código Penal Brasileiro. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm. Acesso em: 15 jun 2025.
CANÇADO TRINDADE, Antônio Augusto. Tratado de direito internacional dos direitos humanos. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 1999.
CAPEZ, Fernando. Curso de direito penal: parte geral. 21. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2021. v. 1.
EMAGIS. Revista da Escola da Magistratura do TRF4, nº 16, 2024.
NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal comentado. 20. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022.
ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS (OEA). Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica), de 22 de novembro de 1969. Ratificada pelo Brasil em 25 de setembro de 1992. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d0678.htm. Acesso em: 21 jul. 2025.
ONU – ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Declaração Universal dos Direitos Humanos, 1948. Disponível em: https://www.ohchr.org/en/ohchr_homepage. Acesso em: 15 jun. 2025
PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos e o direito constitucional internacional. 14. ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 98.
SANDEL, Michael. Contra a perfeição: Ética na era da engenharia genética. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2013.
SHELLEY, Mary. Frankenstein. Rio de Janeiro: Darkside. 2017.
UNESCO. Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos. Disponível em: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000146180_por. Acesso em 15 jun 2025.
NOTAS
[2] SHELLEY, Mary. Frankenstein. Rio de Janeiro: Darkside, 2017, p. 75/76.
[3] SHELLEY, Mary. Frankenstein. Rio de Janeiro: Darkside, 2017, p. 137.
[4] SHELLEY, Mary. Frankenstein. Rio de Janeiro: Darkside, 2017, p. 113.
[5] ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS (ONU). Declaração Universal dos Direitos Humanos. Disponível em: Acesso em 21 jul 2025.
[6] ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS (OEA). Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica), de 22 de novembro de 1969. Ratificada pelo Brasil em 25 de setembro de 1992. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d0678.htm. Acesso em: 21 jul. 2025.
[7] BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. São Paulo: Ed. Saraiva. 2001. P.9.
[8] BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. São Paulo: Ed. Saraiva. 2001. P. 15.
[9] ONU – ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Declaração Universal dos Direitos Humanos, 1948. Disponível em: https://www.ohchr.org/en/ohchr_homepage. Acesso em: 15 jun. 2025.
[10] ONU – ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Declaração Universal dos Direitos Humanos, 1948. Disponível em: https://www.ohchr.org/en/ohchr_homepage. Acesso em: 15 jun. 2025.
[11] BRASIL. Decreto n. 592, de 06 de julho de 1992. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/d0592.htm. Acesso em: 15 jun. 2025.
[12] BRASIL. Decreto n. 65.810, de 08 de dezembro de 1969. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1950-1969/d65810.html. Acesso em: 15 jun. 2025.
[13] BRASIL. Decreto n. 4377, de 13 de setembro de 2002. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2002/d4377.htm. Acesso em: 15 jun de 2025.
[14] BRASIL. Decreto n. 186, de 09 de julho de 2008. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/congresso/dlg/dlg-186-2008.htm. Acesso em: 15 jun de 2025.
[15] BRASIL. Decreto n. 6.949, de 25 de agosto de 2009. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/decreto/d6949.htm. Acesso em: 15 jun de 2025.
[16] BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.
[17] PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos e o direito constitucional internacional. 14. ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 98.
[18] BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. 16. ed. São Paulo: Malheiros, 2010, p. 563.
[19] CANÇADO TRINDADE, Antônio Augusto. Tratado de direito internacional dos direitos humanos. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 1999, p. 45.
[20] BRASIL. Decreto-Lei n. 2.848, de 07 de dezembro de 1940. Código Penal Brasileiro. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm. Acesso em: 15 jun 2025.
[21] BRASIL. Decreto-Lei n. 2.848, de 07 de dezembro de 1940. Código Penal Brasileiro. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm. Acesso em: 15 jun 2025.
[22] CAPEZ, Fernando. Curso de direito penal: parte geral. 21. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2021. v. 1.
[23] BRASIL. Decreto-Lei n. 2.848, de 07 de dezembro de 1940. Código Penal Brasileiro. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm. Acesso em: 15 jun 2025.
[24] NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal comentado. 20. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022.
[25] SHELLEY, Mary. Frankenstein. Rio de Janeiro: Darkside, 2017, p. 153.
[26] SHELLEY, Mary. Frankenstein. Rio de Janeiro: Darkside, 2017, p. 108.
[27] BRASIL. Decreto-Lei n. 2.848, de 07 de dezembro de 1940. Código Penal Brasileiro. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm. Acesso em: 15 jun 2025.
[28] NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal comentado. 20. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022.
[29] SANDEL, Michael. Contra a perfeição: Ética na era da engenharia genética. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2013.
[30] BOEING, Daniel; MORAIS DA ROSA, Alexandre. Ensinando um robô a julgar. Florianópolis: Empório do Direito, 2020
[31] EMAGIS. Revista da Escola da Magistratura do TRF4, nº 16, 2024.
[32] UNESCO. Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos. Disponível em: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000146180_por. Acesso em 15 jun 2025.
[33] PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos e o direito constitucional internacional. 14. ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 98.
[34] SHELLEY, Mary. Frankenstein. Rio de Janeiro: Darkside. 2017.